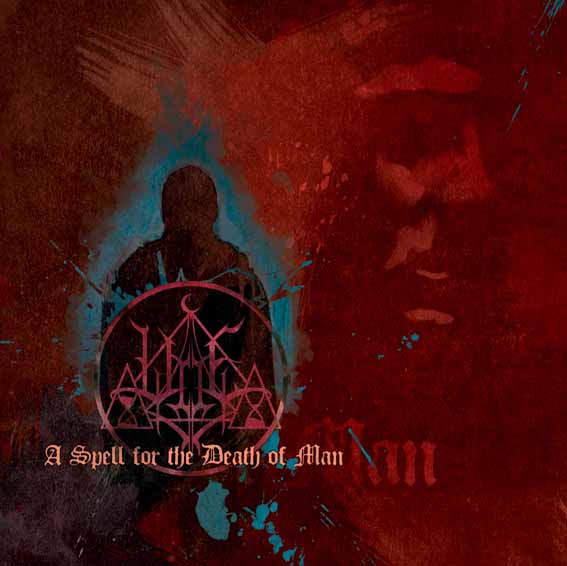Semana passada, ao falar sobre bandas-geniais-que-perderam-a-fórmula-da-própria-genialidade-e-se-tornaram-bandas-terríveis-(segundo-os-fãs), citei o Silverchair como exemplo. Pois bem. Ao escrever sobre o Silverchair, lembrei de uma conversa que tive com um amigo há muito, muito tempo. Falávamos sobre música e bandas que conhecíamos, e eis que a banda dos mocinhos australianos entrou na roda. Naquela época, eu estava pirando neste disquinho que tentarei dissecar nas linhas abaixo, então perguntei ao coleguinha se Neon Ballroom poderia ser considerado um bom disco, na opinião dele, e obtive como resposta um: “ah, ruim não é, mas não é o Silverchair de verdade, né”.
Eu confesso que devo ter manipulado inconscientemente esse depoimento para que ele coubesse como exemplo introdutório neste post – vai saber o que se passa nas nossas cabeças, né -, mas não a ponto de fazer a declaração soar absurda. Já ouvi mesmo muita gente que ouvia o som deles dizer coisas nesse sentido – e não só deles (convenhamos que de gente chata pra acusar de traidor o mundo tá cheio) -. E aí me aproveito da ideia de mudança de som ao longo dos anos pra escrever esta postagem (não vou repetir as divagações, mas, a quem interessar possa, aqui estão elas).
Neon Ballroom é um disco com cara de velho e cheiro de mofo. Falar da “cara” do disco, aliás, é muito importante neste caso: toda a concepção do álbum é do guitarrista e vocalista Daniel Johns, e todas as letras do encarte se apresentam em formatos diferentes, sendo que cada música recebe uma foto ou montagem de fundo específica e condizente com seu conteúdo ou com algum de seus elementos. É bem verdade que algumas páginas parecem meio nonsense, mas nem sempre se pode acertar na vida, coleguinhas.
Mas vamos às vias de fato. A marotice toda começa com a angustiante Emotion Sickness, que já começa no susto e na qual os vocais são suaves, mas um tanto corrosivos. “GET UP GET UP GET UP!”, canta o mocinho das louras madeixas, soando feio e doentio, quase repulsivo – um apelo que tu provavelmente não querias ouvir. Mas a mão que apedreja é a mesma que afaga (ou o contrário), como diria o poeta, e o cantor doente se arrasta porta afora cantando seus cânceres emocionais numa mudança drástica de dinâmica - que obviamente vem depois do momento em que você certamente pensou que, FINALMENTE!, a música tinha acabado -. Em seis minutos de duração, a música dá uma prévia do que te espera até o final do disco, ou quase: recursos musicais até então inexplorados ou pouco explorados pela banda (tais como orquestra, coral e piano), variação de tensões, faixas cheias de altos e baixos e um Daniel Johns descobrindo que sua voz também pode ser um belíssimo instrumento.
A segunda faixa, Anthem For The Year 2000, soa quase ingênua (“never knew we were living in a world with a mind that could be so small”), mas sem deixar a doença emocional toda de lado (“we are the youth and we are knockin’ on death’s door”), óbvio - afinal, estamos falando de um disco gravado no auge dos problemas de saúde (em vários níveis) do principal compositor da banda, vamos dar um desconto. Anthem tem a participação das vozes juvenis do New South Wales Public School Singers and Friends, nos backing vocals - mas elas não tão perceptíveis assim, porque acabam sendo meio que atropeladas pela guitarra do moço nos versos do refrão. Ainda assim, dá um efeito bonito, mas nada extraordinário.
Reza a lenda que Ana's Song (Open Fire) foi escrita em homenagem à amada anorexia do loiro gatinho dos vocais. Não sei se isso é verdade, mas ela engana bem como canção de amor. De qualquer forma, sendo uma Ana, ouvir que “Ana wrecks your life like an anorexia life” só não é mais triste que ouvir algum babaca cantar a música do Los Hermanos toda vez que eu me apresento (“Ahh, Ana Júlia? Aquela da música?”). Mas seria mais original...
Spawn Again é a voadeira nos ouvidos de quem esperava algo meio down. “This is Animal Liberation”, canta Johns, e eu ainda acho que ele falava do demônio que vivia dentro dele e que sai vomitado do seu corpo magro nesta canção, PORQUE SÓ PODE. Curto, grosso e agressivo, como, teoricamente, teria que ser. No encarte, a imagem do macaco preso numa caixa de vidro com cara de profundo desespero, junto da letra, que foi desenhada de modo a formar um quadrado em torno da foto (e que, como no resto das letras, tem versos cortados e “versos fantasma” {estão lá, mas não existem na música de fato}) é capaz de te deixar meio desesperado também. A sensação, porém, é cortada logo depois da catarse, e dá espaço pra fofíssima Miss You Love, que, segundo fontes seguras (leia-se: meu tio), foi tema de um casalzinho desses aí que brigam-se-separam-e-voltam de uma novela nasantiga (esta). E tinha que ser mesmo: começa no pianinho, toda marota, e fala dum moleque que aprontou alguma pra sua amada (“remember today, I’ve no respect for you”) e agora quer voltar (“...and I miss you, love”), cheio das cretinice da vida, concluindo a estória com a seguinte frase: “I love the way you love, but I hate the way I’m supposed to love you back”. Ordinário, mas tããão bonitinho!
Dearest Helpless é uma música sedutora, meio canastrona (se é que existe o feminino deste termo). “I’m just the kind to bring you down”, ou seja: “eu posso estar no fundo do poço, mas ainda tenho meu olhar 43 e se você bobear, eu te arrasto junto, ouvinte lindo”. O álbum segue com Do You Feel The Same, Black Tangled Heart e Point Of View, que não são lá músicas inesquecíveis, mas têm seu valor. Sempre encarei Satin Sheets como o retorno do demônio do Johns, ou sei lá, uma tentativa de mostrar que, NÉ, GENTE, a gente mudou, mas ainda faz um som mais pesado, olha só. E fazem bem. Ou faziam? Enfim.
Paint Pastel Princess começa numa levadinha gostosa, toda montada na orquestra de fundo, e é bem difícil não se pegar cantarolando depois “but it’s a-all the same to me”, frase cretina que fica ecoando na cabeça. Temos, enfim, Steam Will Rise, a décima segunda e última faixa do disco, cujo refrão surge de um jogo de palavras: “esteem will rise / steam will rise”, e soa como um alívio, um reconhecimento do próprio estado, um “eu-sei-que-eu-tô-mal-e-eu-não-aguento-mais-esconder-isso”. Dizem por aí que depois da tormenta vem a bonança. Não sei se isso realmente funciona, mas a impressão que eu tenho sempre que ouço este disco é que, nesta última faixa, toda a lamentação sangrenta do disco se esvai até virar uma lembrança distante e confusa. Coisas da vida.
Pra concluir o causo, arrisco dizer que Neon Ballroom não é apenas um disco; Neon Ballroom é uma sincera, bonita e concisa obra audiovisual que marcou um ponto de inúmeras transições - na vida de cada um deles, na mudança de direção musical da banda (e, consequentemente, na renovação do "público-alvo"), na virada do século... -, cheia da melancolia remanescente dos anos pós-grunge, do jeitinho que a gente gosta.